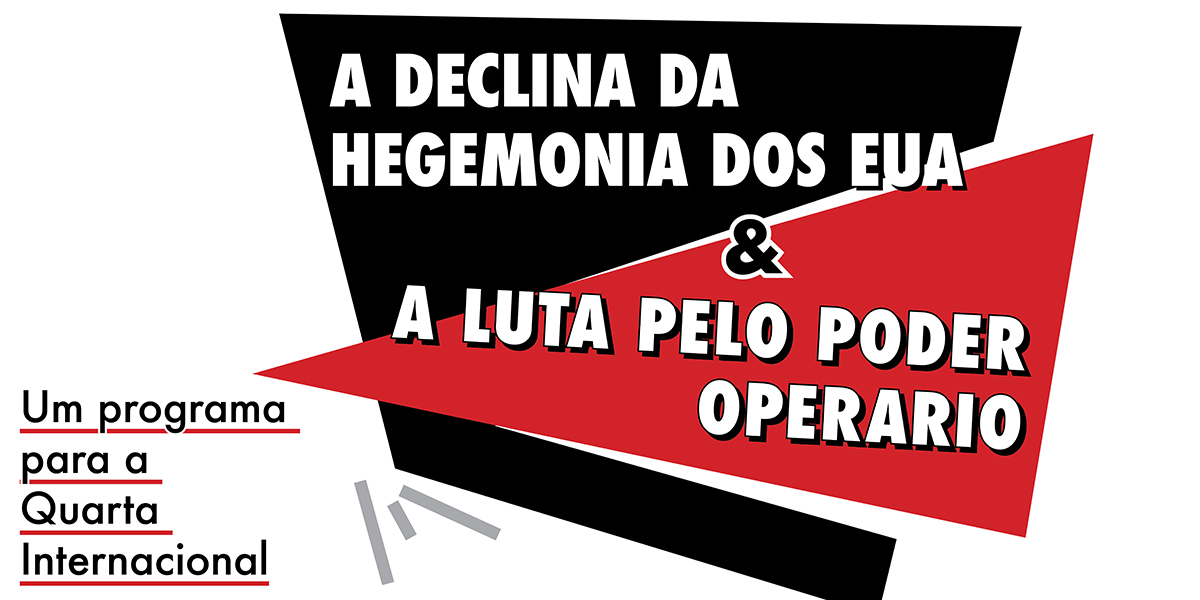https://iclfi.org/pubs/icl-pt/2024-04-declina
Introdução
O documento que se segue foi adotado pela Oitava Conferência Internacional da LCI.
Os trinta anos que se seguiram ao colapso da União Soviética foram, sob qualquer ponto de vista, anos de relativa estabilidade à escala da história mundial. Este período teve as suas crises e conflitos sangrentos, mas foram mais a exceção do que a norma e foram suaves quando comparados com as convulsões do século XX. Os conflitos armados foram de menor intensidade, o nível de vida de milhões de pessoas melhorou e em muitas partes do mundo assistiu-se à liberalização social. Como é que isto foi possível após a destruição da URSS, uma derrota catastrófica para a classe operária internacional?
A classe dominante imperialista e os seus bajuladores proclamaram que estes desenvolvimentos provavam decisivamente a superioridade do capitalismo liberal dos EUA sobre o comunismo. Qual foi a reação dos que reivindicavam o manto marxista? O Partido Comunista da China (PCC) tornou-se o porta-estandarte da globalização económica, aproximando-se da Organização Mundial do Comércio (OMC) e relegando o socialismo para fins meramente cerimoniais. Muitos estalinistas pró-Moscovo simplesmente desintegraram-se. Quanto aos agrupamentos trotskistas, perseguiram os movimentos liberais contra a guerra, a austeridade e o racismo, incapazes de justificar a necessidade de um partido revolucionário. Enquanto alguns “marxistas” continuaram a pregar o socialismo para o futuro, nenhum construiu uma oposição revolucionária ao triunfalismo liberal.
Atualmente, o vento abandonou as velas do liberalismo. A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia marcaram um ponto de viragem na situação mundial. A crise está a tornar-se a norma e a estabilidade a exceção. Como a hegemonia dos Estados Unidos está ameaçada e todos os factores que favoreciam a estabilidade estão a desaparecer, muito poucos têm a ilusão de que o caminho a seguir será suave. Embora o liberalismo ainda tenha os seus defensores—sobretudo no movimento operário—eles já não estão confiantes e na ofensiva, mas histéricos e reactivos, à medida que sentem o chão a derreter sob os seus pés. O liberalismo enfrenta agora verdadeiros adversários, desde o populismo de direita e de esquerda, o islamismo e o nacionalismo hindu até ao estalinismo chinês. Os próprios liberais estão a dilacerar-se uns aos outros por causa dos critérios do politicamente correto e da política identitária. Mas enquanto as nuvens se acumulam e o imperialismo norte-americano e os seus aliados procuram recuperar a iniciativa, a vanguarda do proletariado permanece desorganizada e desorientada.
A luta para libertar o movimento operário do oportunismo, iniciada por Lenin e continuada por Trotsky, deve ser retomada, aplicada às tarefas e à dinâmica do mundo de hoje. A Oitava Conferência Internacional da LCI e este documento procuram fornecer uma base para esta luta através de uma crítica do período pós-soviético de triunfalismo liberal e delineando alguns elementos básicos de análise e programa para a nova era de hoje caracterizada pela declina da hegemonia dos EUA. Como a classe trabalhadora do mundo enfrenta desastres e conflitos, mais do que nunca há uma necessidade urgente de um partido revolucionário de vanguarda internacional capaz de levar a classe trabalhadora ao poder.
I. Origens do mundo unipolar
Os Estados Unidos emergiram da Segunda Guerra Mundial como o líder indiscutível do mundo capitalista. A sua economia interna representava 50 por cento do PIB mundial. Detinha 80% das reservas mundiais de moeda forte, possuía o exército mais forte e era o principal credor do mundo. Utilizou este domínio para reformular a ordem internacional. O sistema de Bretton Woods estabeleceu o dólar americano como moeda de reserva mundial e foi criada toda uma série de instituições (ONU, FMI, Banco Mundial, OTAN) para consagrar o domínio dos EUA e lançar as bases de uma ordem mundial capitalista liberal.
Apesar do esmagador poder económico dos EUA, a URSS representava um importante contrapeso. O Exército Vermelho era uma força formidável e o seu controlo estendia-se a toda a Europa Oriental. Apesar das tentativas de Estaline para conseguir um acordo duradouro com o imperialismo americano, não foi possível qualquer acordo. A própria existência e força da União Soviética representavam um desafio ao domínio do capitalismo americano. Em todo o mundo, as lutas anti-coloniais estavam em pleno andamento e as forças anti-imperialistas olhavam para a URSS em busca de apoio político e militar. A vitoriosa Revolução Chinesa de 1949 aumentou ainda mais o peso do mundo não capitalista, criando histeria e pânico nos EUA. O mundo estava efetivamente dividido em duas esferas de influência concorrentes, representando dois sistemas sociais rivais.
À medida que as outras potências imperialistas se reconstruíam e os EUA se envolviam numa aventura militar anticomunista atrás de outra, apareceram os primeiros sinais claros de sobreextensão. A derrota dos EUA no Vietname foi um ponto de viragem, abrindo um período de turbulência económica e política no país e no estrangeiro. No início da década de 1970, havia fortes razões para acreditar que o chamado "Século Americano" estava a enfrentar um fim prematuro. No entanto, as aberturas revolucionárias do final dos anos 60 e início dos anos 70—França ('68), Checoslováquia ('68), Quebeque ('72), Chile ('70-73), Portugal ('74-75), Espanha ('75-76)—acabaram todas em derrota. Ao assegurar essas derrotas, a liderança oportunista da classe operaria deu ao imperialismo o espaço necessário para se estabilizar. No final dos anos 70 e início dos anos 80 estava de volta à ofensiva, marcando o início da era neoliberal de privatização e liberalização económica. Em 1981, Reagan deu uma derrota decisiva à classe trabalhadora dos EUA ao esmagar a greve dos controladores de tráfego aéreo PATCO. Seguiram-se outras derrotas para a classe operaria internacional, nomeadamente a dos mineiros britânicos em 1985. Neste período, foi exercida cada vez mais pressão sobre a URSS, com a Guerra Fria a atingir novos patamares e os EUA a explorarem a cisão sino-soviética através da sua aliança anti-soviética com a China.
No final da década de 80, a URSS e o bloco de Leste encontravam-se em profundas dificuldades económicas e políticas. A retirada do Exército Vermelho do Afeganistão e a vitória contrarrevolucionária do Solidarność na Polónia desmoralizaram ainda mais a burocracia no poder em Moscovo. Depois de Moscovo ter vendido a DDR (Alemanha de Leste) e ter aderido à reunificação alemã, não demorou muito a vender a própria União Soviética. As pressões do imperialismo mundial, combinadas com a desmoralização da classe trabalhadora resultante de décadas de traição estalinista, levaram à liquidação final das conquistas da Revolução de outubro. Em 1991, o equilíbrio internacional das forças de classe tinha-se deslocado decisivamente a favor do imperialismo à custa da classe operaria e dos oprimidos do mundo.
II. Carácter reacionário do período pós-soviético
Ultraimperialismo made in the USA
Com o colapso da URSS, a ordem mundial deixou de ser definida pelo conflito de dois sistemas sociais e passou a ser definida pela hegemonia dos Estados Unidos. Não existia nenhum país ou grupo de países que pudesse rivalizar com os EUA. O seu PIB era quase o dobro do seu rival mais próximo, o Japão. Controlava o fluxo de capital global. Militarmente, nenhuma potência podia sequer aproximar-se. O modelo americano de democracia liberal foi proclamado o pináculo do progresso com o qual se esperava que todos os países convergissem.
Em muitos aspectos, a ordem que emergiu assemelhava-se ao “ultraimperialismo”, um sistema em que as grandes potências concordam em pilhar conjuntamente o mundo. Isto não foi provocado pela evolução pacífica do capital financeiro, como projetado por Karl Kautsky, mas pela supremacia de uma única potência construída sobre as cinzas do imperialismo europeu e japonês após a Segunda Guerra Mundial. Os EUA reconstruíram estes impérios a partir dos seus restos e unificaram-nos numa aliança anti-comunista durante a Guerra Fria. Quando a Guerra Fria terminou, esta frente unida imperialista não foi desfeita, mas sim reforçada em muitos aspectos. Por exemplo, a reunificação alemã não levou a um aumento das tensões na Europa, como muitos temiam, mas foi feita com a bênção dos EUA e da OTAN.
A estabilidade excecional do período pós-soviético pode ser explicada pelas vantagens esmagadoras detidas pelos Estados Unidos sobre os seus rivais, combinadas com a abertura ao capital financeiro de grandes extensões de mercados anteriormente inexplorados. Um terço da população mundial vivia em países não capitalistas em 1989. A onda de contrarrevolução que começou nesse ano levou à destruição completa de muitos dos Estados operários, ou—como no caso da China—à abertura ao capital imperialista, mantendo as bases de uma economia colectivizada. Estes desenvolvimentos deram ao imperialismo um novo sopro de vida. Em vez de se dividirem entre si por quotas de mercado, a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha e os EUA trabalharam em conjunto para trazer a Europa de Leste para o rebanho político e económico do Ocidente. A União Europeia (UE) e a OTAN expandiram-se em simultâneo até às fronteiras da Rússia. Na Ásia, verificou-se uma situação análoga: os EUA e o Japão trabalharam em conjunto para promover e explorar a liberalização económica na China e no resto da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático.
A frente unida das grandes potências não deu ao resto do mundo outra alternativa senão a de se submeter aos ditames políticos e económicos dos EUA. Num país após outro, o FMI e o Banco Mundial reescreveram as regras de acordo com os interesses do capital financeiro dos EUA. Este “neoliberalismo” já estava bem encaminhado nos anos 80, mas a destruição da União Soviética deu-lhe um novo ímpeto. Os poucos países que recusaram ou foram impedidos de seguir o caminho traçado pelos Estados Unidos (Irão, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, Iraque, Afeganistão) não representavam uma ameaça significativa para a ordem mundial.
Esta relação de forças favorável não só criou oportunidades de investimento lucrativas para os imperialistas, como também reduziu os riscos associados ao comércio externo. Os capitalistas podiam investir e negociar no estrangeiro sabendo que o domínio político e militar dos Estados Unidos os protegia de um conflito grave ou de um governo demasiado hostil. Estes factores conduziram a um crescimento significativo do comércio internacional, à deslocalização enorme da produção e a uma explosão da circulação internacional de capitais, ou seja, à globalização.
Uma resposta marxista à globalização
Os defensores do imperialismo liberal atribuem à globalização um importante aumento do nível de vida em muitas partes do mundo e uma descida generalizada dos preços dos bens de consumo. É inegável que a extensão da divisão global do trabalho nos últimos 30 anos conduziu a um desenvolvimento das forças produtivas a nível internacional. Por exemplo, o consumo de energia per capita nos países de rendimento baixo e médio mais do que duplicou, a alfabetização mundial aumentou para quase 90 por cento, a produção automóvel mais do que duplicou e o mesmo aconteceu com a produção de aço. À primeira vista, estes desenvolvimentos progressivos parecem entrar em conflito com a teoria marxista do imperialismo, que defende que o capitalismo chegou à sua fase final, em que o domínio do capital monopolista conduz ao parasitismo e à decadência a longo prazo. No entanto, longe de ser contraditória com o curso dos acontecimentos, a análise marxista é a única capaz de os explicar plenamente e, nesse processo, mostrar como a ordem mundial liberal conduz, não a um progresso social e económico gradual, mas a uma calamidade social.
Para começar, não é de modo algum necessário atribuir um papel progressivo ao capital financeiro para explicar um crescimento sustentado das forças produtivas. As condições que se seguiram ao colapso da União Soviética—ameaça militar reduzida, movimento laboral enfraquecido, risco reduzido no investimento estrangeiro, liberalização generalizada—permitiram ao imperialismo, durante algum tempo, ultrapassar a sua tendência para o declínio. De facto, o próprio Trotsky projectou esta possibilidade:
“Teoricamente, é certo que não está excluído um novo capítulo de progresso capitalista geral nos países mais poderosos, dominantes e líderes. Mas, para isso, o capitalismo teria primeiro de ultrapassar enormes barreiras, tanto de classe como de carácter interestatal. Teria de estrangular a revolução proletária durante muito tempo; teria de escravizar completamente a China, derrubar a república soviética, etc.”
—A Terceira Internacional Depois de Lenin (1928) [Tradução do texto em inglês]
Foi exatamente isso que aconteceu. Após uma mudança dramática na relação de forças de classe em detrimento do proletariado, o capitalismo ganhou um novo fôlego. Mas isto só podia ser uma pausa temporária na tendência geral do imperialismo para o declínio, que está agora a regressar à norma.
Em segundo lugar, para os defensores do capitalismo, a superioridade dos mercados livres sobre as economias planificadas é provada pela comparação dos níveis de vida nos Estados operários deformados da Europa de Leste com os de hoje (a Polónia é o exemplo padrão). De facto, esta afirmação pode ser refutada mesmo deixando de lado o facto de que, em certas medidas, as condições pioraram—desigualdade, estatuto das mulheres, emigração em massa, etc. Os marxistas ortodoxos—ou seja, os trotskistas—sempre argumentaram que as economias planificadas dos Estados operários isolados, apesar das suas enormes vantagens, não podiam prevalecer sobre as das potências capitalistas avançadas devido à maior produtividade destas últimas e à divisão internacional do trabalho. Os estalinistas afirmavam que a União Soviética por si só (e mais tarde com os seus aliados) poderia ultrapassar os países capitalistas avançados através de uma “coexistência pacífica” com o imperialismo. Mas é precisamente a impossibilidade de coexistência pacífica que exclui essa possibilidade.
As potências imperialistas mantiveram sempre uma pressão económica e militar extrema sobre a URSS e os outros países do Pacto de Varsóvia, cujo desempenho económico foi prejudicado por estas agressões. A isto juntou-se a má gestão burocrática que necessariamente advém da tentativa de “construir o socialismo” em condições de isolamento e pobreza. O crescimento económico sustentado da Polónia capitalista deve-se à sua plena integração no comércio global—uma possibilidade vedada à devastada economia do pós-guerra da República Popular da Polónia. Não se pode comparar de forma justa o nível de vida de um castelo cercado com o de um que não está. A superioridade das economias planificadas é totalmente óbvia quando se olha para o incrível progresso alcançado apesar do ambiente internacional hostil em que se encontravam. Isto é verdade para a Polónia, tal como é verdade para a União Soviética, Cuba, China e Vietname.
Em terceiro lugar, os defensores da ordem mundial liberal argumentam que, uma vez que a intensidade e o número de guerras diminuíram desde a Segunda Guerra Mundial e diminuíram ainda mais desde o colapso da União Soviética, isso prova que o liberalismo e a globalização conduzem gradualmente à paz. Embora alguns aspectos factuais desta afirmação possam ser contestados, é inegável que nenhum conflito nos últimos 75 anos se aproximou do massacre industrial que teve lugar nas duas guerras mundiais. Até hoje, “manter a paz na Europa” continua a ser o principal argumento utilizado para defender a UE. A verdade é que a ausência de uma nova guerra mundial é apenas um produto da supremacia dos Estados Unidos sobre os seus rivais—uma relação de forças necessariamente temporária. Como explicou Lenin:
“Basta formular claramente a pergunta para que seja impossível dar-lhe uma resposta que não seja negativa, pois sob o capitalismo não se concebe outro fundamento para a partilha das esferas de influência, dos interesses, das colônias, etc., além da força de quem participa na divisão, a força econômica geral, financeira, militar, etc. E a força dos que participam na divisão não se modifica de forma idêntica, visto que sob o capitalismo é impossível o desenvolvimento igual das diferentes empresas, trusts, ramos industriais e países....
“Por isso, as alianças ‘interimperialistas’ ou, ultraimperialistas, no mundo real capitalista, e não na vulgar fantasia filistina dos padres ingleses ou do ‘marxista’ alemão Kautsky—seja qual for a sua forma: uma coligação imperialista contra outra coligação imperialista, ou uma aliança geral de todas as potências imperialistas—só podem ser, inevitavelmente, ‘tréguas’ entre guerras.”
—O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo (1916)
Aceitar que o período pós-soviético foi de relativa paz não apaga de modo algum o facto de ter havido numerosas guerras que foram bastante brutais. O exército americano tem-se envolvido quase continuamente em guerras de baixa intensidade para afirmar o seu poderio militar e garantir o seu direito de subjugar “pacificamente” milhões de pessoas através da expansão do capital financeiro. Longe de conduzir à paz mundial, esta dinâmica apenas prepara novas guerras de brutalidade inimaginável para redividir o mundo uma vez mais.
Em quarto lugar, o crescimento das forças produtivas ocorreu não devido a um mítico comércio livre, mas sob o jugo e de acordo com os interesses do capital monopolista controlado por algumas grandes potências. Isto significou que qualquer progresso a curto ou médio prazo que tenha ocorrido em certas regiões do mundo, veio acompanhado de uma maior dependência dos caprichos financeiros das potências imperialistas, principalmente dos EUA. Por exemplo, podemos olhar para vários indicadores sócio-económicos e observar uma melhoria do nível de vida no México desde os anos noventa. Mas isso foi feito à custa de uma subordinação económica muito mais profunda aos Estados Unidos e da devastação de certas camadas da população, em particular do campesinato. Esta situação significa que, em épocas de crescimento, os imperialistas retiram enormes lucros das suas dependências e, quando a crise se instala, podem exigir concessões políticas e económicas extorsivas, aprofundando ainda mais a sua opressão nacional. Tudo isto demonstra que o crescimento económico a curto prazo não vale o preço da escravatura ao imperialismo.
Por último, e mais importante, o colapso da União Soviética não anunciou uma fase superior do progresso humano, mas o triunfo do imperialismo americano, que não é outra coisa senão o domínio dos rentistas financeiros americanos sobre o mundo. É o próprio domínio desta classe que limita o desenvolvimento das forças produtivas e conduz ao declínio social. Isto é verdade em primeiro lugar e acima de tudo para os próprios EUA. No Imperialismo, Lenin explicou:
“A exportação de capitais, uma das bases econômicas mais essenciais do imperialismo, acentua ainda mais este divórcio completo entre o setor dos rentiers e a produção, imprime uma marca de parasitismo a todo o país, que vive da exploração do trabalho de uns quantos países e colônias do ultramar.”
Isto descreve perfeitamente o carácter da economia dos EUA. O crescimento sem precedentes dos seus interesses financeiros internacionais esvaziou a própria fonte do poder global dos EUA, a sua outrora poderosa base industrial. O deslocalização da indústria, o subinvestimento crónico em infra-estruturas, os preços astronómicos da habitação, uma indústria de cuidados de saúde sugadora de sangue, uma educação demasiado cara e de baixa qualidade: tudo isto são produtos do carácter cada vez mais parasitário do capitalismo americano. Até o poderio militar dos EUA está a ser minado pelo esvaziamento da indústria.
A classe dominante americana tem procurado compensar o declínio económico do país através da especulação selvagem, do crédito barato e da impressão de dinheiro. Como observou Trotsky, “quanto mais pobre a sociedade cresce, mais rica ela parece, vendo-se no espelho deste capital fictício” (“A crise económica mundial e as novas tarefas da Internacional Comunista”, junho de 1921 [Tradução do texto em inglês]). Isto anuncia um desastre económico. Todo o tecido social do país está a apodrecer e cada vez mais camadas da classe operaria e dos oprimidos são atiradas para a miséria.
Esta decadência interna é acompanhada por um declínio do peso económico no mundo. Enquanto representava 36% do PIB mundial em 1970, a economia dos EUA representa atualmente menos de 24%. Esta tendência foi seguida por todos os países imperialistas. Enquanto em 1970 as cinco principais potências (EUA, Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha) representavam em conjunto 60% do PIB mundial, atualmente essa percentagem é de 40%. Por um lado, o aumento fenomenal da exportação internacional de capitais produziu a decadência; por outro lado, integrou ainda mais muitos países nas modernas relações capitalistas, criando um gigantesco proletariado na Ásia Oriental e noutras partes do mundo.
São os chamados países de rendimento médio, e a China em particular, que viram o seu peso na economia mundial aumentar. No entanto, apesar deste progresso económico, estes países continuam subordinados ao capital financeiro internacional. No que diz respeito ao poder financeiro, os Estados Unidos permanecem incontestados: o dólar continua a reinar supremo, os Estados Unidos controlam as principais instituições internacionais e 14 das 20 maiores empresas de gestão de activos são americanas, controlando um capital combinado de 45 triliões de dólares, o equivalente a cerca de metade do PIB mundial. (As outras seis principais empresas de gestão de activos são suíças, francesas, alemãs ou britânicas. Das 60 maiores, nenhuma é da China, da Coreia do Sul ou de qualquer outro dos chamados “novos países industrializados”). A contradição crescente entre a posição hegemónica que os EUA ainda detêm e o seu reduzido poder económico real não é sustentável e é a causa principal da crescente instabilidade económica e política no mundo.
O crescimento do comércio mundial, a industrialização dos países neocoloniais, o desenvolvimento da China—todos estes factores estão a minar a hegemonia dos EUA. Para manter a sua posição, os EUA têm de inverter a dinâmica atual. Isto significa destruir as bases da globalização, confrontando a China, pressionando as neocolónias, aumentando as barreiras tarifárias e reduzindo as migalhas dadas aos seus aliados. Fundamentalmente, o argumento mais definitivo contra a globalização é o facto de o desenvolvimento das forças produtivas ir contra os interesses da própria classe em que assenta a globalização, a burguesia imperialista americana. Só isso já estabelece que não passa de uma fantasia reacionária tentar manter ou “consertar” a ordem mundial liberal.
Isto não quer dizer que, tal como em 1989, não seria possível para os EUA conseguirem reforçar a sua posição. Mas isso só poderia ser conseguido à custa de derrotas catastróficas para a classe trabalhadora internacional e não faria nada para deter a inexorável decadência do imperialismo. A única força que pode pôr fim à tirania imperialista e dar início a uma fase de desenvolvimento verdadeiramente superior é a classe trabalhadora. A globalização reforçou, de facto, o potencial revolucionário do proletariado, tornando-o hoje mais poderoso, mais internacional e mais oprimido a nível nacional do que nunca. Mas, até à data, este facto não se traduziu num aumento da força política. Neste aspeto, o período pós-soviético fez com que o movimento operário recuasse muito.
III. O liberalismo e o mundo pós-soviético
Triunfalismo liberal
O colapso da União Soviética conduziu não só a grandes mudanças no equilíbrio económico, político e militar das forças internacionais, mas também a grandes mudanças ideológicas. Durante a Guerra Fria, as classes dominantes do Ocidente apresentavam-se como defensoras da democracia e dos direitos individuais contra a tirania do “comunismo totalitário”. No fundo, tratava-se de uma justificação ideológica para a hostilidade contra os Estados operários deformados e as lutas anticoloniais. Com o desmoronamento do bloco soviético, o comunismo foi proclamado morto e o triunfalismo liberal tornou-se a ideologia dominante, reflectindo a mudança de prioridades dos imperialistas, que passaram do confronto com o “comunismo” para a penetração nos mercados recém-abertos da Europa de Leste e da Ásia.
O livro de Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem (1992), resume a arrogância e o triunfalismo do início do período pós-soviético. O capitalismo liberal foi proclamado como o pináculo da civilização humana, destinado a espalhar-se por todo o mundo. É claro que subjacente a esta visão fantasiosa estava a extensão muito real do capital imperialista por todo o mundo. O triunfalismo liberal foi a justificação ideológica para este processo. Os Estados Unidos e os seus aliados governaram o mundo em nome do progresso económico e social—uma versão modernizada do fardo do homem branco.
Foi por detrás desta cobertura ideológica que os EUA conduziram as suas várias intervenções militares no período pós-soviético. A primeira Guerra do Golfo e a intervenção na Sérvia destinavam-se a “proteger as pequenas nações”. A intervenção na Somália foi para “salvar os famintos”. Esta ideologia foi consagrada pela ONU como a “responsabilidade de proteger” (R2P). Como o nome da doutrina indica, proclamava que as grandes potências têm a responsabilidade de intervir militarmente para proteger os povos oprimidos do mundo. Foi em parte devido ao facto de a guerra de Bush Jr. no Iraque não se enquadrar perfeitamente nesta categoria que houve tanta oposição à mesma. Dito isto, nos seus fundamentos, não foi diferente de outras intervenções dos EUA neste período. O seu objetivo era, em primeiro lugar e acima de tudo, afirmar a hegemonia dos EUA no mundo e não assegurar benefícios económicos ou estratégicos a longo prazo. Os aliados dos EUA que se opuseram a intervenções como a do Iraque fizeram-no porque não consideraram que valesse a pena investir recursos substanciais para mostrar mais uma vez que os EUA podiam esmagar um pequeno país. É melhor colher os benefícios da ordem dos EUA sem pagar os custos.
Muito mais importante do que os conflitos armados deste período foi a penetração económica do capital financeiro imperialista em todos os cantos do mundo. O próprio processo de globalização foi acompanhado e ajudado por toda uma série de princípios ideológicos. Uma espécie de internacionalismo imperialista tornou-se consensual na maioria dos países ocidentais. Dizia-se que o Estado-nação era coisa do passado, e o comércio livre, os mercados de capitais abertos e os elevados níveis de imigração eram vistos como o caminho para o progresso e a paz mundial. Mais uma vez, estes grandes princípios reflectiam os interesses específicos da classe dominante e foram utilizados para espezinhar os direitos nacionais dos países oprimidos, desindustrializar o Ocidente, importar mão de obra barata e abrir os mercados ao capital e às mercadorias imperialistas.
O movimento operário no período pós-soviético
No período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, a classe trabalhadora não tinha à sua frente uma vanguarda revolucionária consciente. No entanto, teve uma série de conquistas significativas: a União Soviética, os novos Estados operários do pós-guerra (aos quais se juntaram mais tarde a China, Cuba, Vietname e Laos) e um poderoso movimento operário no mundo capitalista. Este último incluía sindicatos fortes e partidos operários de massas. No entanto, em cada um destes casos, as direcções oportunistas e burocráticas enfraqueceram e esvaziaram constantemente estes bastiões do poder da classe trabalhadora. Quando os sindicatos nos EUA e na Grã-Bretanha estiveram sob ataque concertado e ardente nos anos 80, as suas direcções mostraram-se incapazes de repelir essas ofensivas, apesar dos sacrifícios heróicos dos trabalhadores. Na Europa de Leste, a burocracia soviética liquidou uma posição atrás da outra sem dar luta, até que finalmente se liquidou a si própria. No seu conjunto, estas derrotas desmobilizaram toda a posição do proletariado internacional no pós-guerra.
Estas catástrofes foram exploradas pelos capitalistas, que se aproveitaram delas para obter cada vez mais ganhos de um movimento operário enfraquecido e desorientado. Em quase todo o mundo, a filiação sindical diminuiu, as indústrias e serviços públicos nacionalizados foram privatizados, os partidos operários, como o outrora poderoso Partido Comunista Italiano, foram simplesmente liquidados e, no Ocidente, cada vez mais indústrias foram encerradas. Estes golpes objectivos na classe trabalhadora causaram desmoralização e uma viragem à direita no movimento operário.
Nos países imperialistas, a maior parte dos líderes social-democratas, os restos estalinistas e as cúpulas sindicais abraçaram abertamente o triunfalismo liberal. O reformismo da velha guarda e o sindicalismo eram considerados demasiado radicais para esta nova era. Dizia-se que a luta de classes tinha acabado, os sindicatos tinham de se tornar respeitáveis (ou seja, impotentes) e o socialismo era visto como utópico, na melhor das hipóteses. Havia oposição no movimento operário à privatização e ao comércio livre, mas era mínima e minada pela crença de que eram inevitáveis. O projeto Novo Trabalhismo de Tony Blair simbolizava esta mudança de direita. Procurou transformar o Partido Trabalhista britânico, de um partido da classe trabalhadora baseado nos sindicatos, num partido semelhante ao Partido Democrático dos EUA. No governo, avançou com reformas neoliberais radicais revestidas de um verniz de modernismo e valores sociais progressistas. À medida que estes novos “líderes operários”, na Grã-Bretanha e noutros locais, rejeitavam a própria existência de um movimento operário e todos os princípios sobre os quais este foi construído, as organizações tradicionais foram sendo enfraquecidas e esvaziadas. O domínio do liberalismo nos sindicatos e nos partidos operários equivaleu basicamente ao facto de o movimento operário ter serrado as suas próprias pernas, levando-o ao estado enfraquecido em que se encontra hoje.
Os países oprimidos pelo imperialismo
No Ocidente e no Japão, a posição da classe operária foi prejudicada pela deslocalização da indústria. No entanto, em muitos países oprimidos pelo imperialismo, a indústria prosperou, mas o proletariado continuou a ver a sua posição política substancialmente degradada no período pós-soviético. Como explicar esta fraqueza no contexto de um reforço objetivo da classe operária? Tendo em conta as grandes variações entre países, é possível estabelecer uma tendência geral. O contexto internacional dos anos 80 e 90 levou a que o imperialismo reforçasse o seu controlo sobre os países “em desenvolvimento” e “emergentes”. Este facto, por sua vez, favoreceu o reforço do liberalismo em detrimento do nacionalismo do Terceiro Mundo e da política militante da classe trabalhadora. Embora o liberalismo em questões sociais como a sexualidade, a raça e a religião não tenha progredido muito, o liberalismo económico (neoliberalismo) e, em certa medida, o liberalismo político (democracia formal) tornaram-se dominantes.
A nível político, a convergência internacional para a democracia liberal foi, em parte, o resultado da política externa dos Estados Unidos, que cada vez mais considerava as reformas democráticas como uma forma óptima de conter as convulsões sociais. Mas os regimes internos dos países neocoloniais também foram grandemente afectados pelo enfraquecimento do movimento operário a nível internacional. As elites estavam mais confiantes na sua posição, o que lhes permitia fazer concessões, enquanto os oprimidos tinham uma mão mais fraca, o que aumentava a pressão sobre eles para que desistissem de uma mudança radical. Isto reduziu a agudeza das contradições internas, permitindo a países como a Coreia do Sul, Taiwan, Brasil e África do Sul substituir ditaduras quase totalitárias por uma certa democracia burguesa. Para os regimes que se baseavam mais na colaboração de classe do que na repressão, a mudança de contexto reduziu a necessidade de concessões ao movimento operário. No México, por exemplo, o velho regime corporativista de partido único que durou 70 anos foi gradualmente destruído, e com ele grande parte da influência dos sindicatos.
A nível económico, a existência da União Soviética permitiu aos países neocoloniais equilibrarem-se entre as duas grandes potências. Muitos regimes nacionalizaram sectores importantes das suas economias e tinham algum controlo dos fluxos de capitais nos seus países. Estes modelos eram ineficazes e corruptos, mas permitiam uma certa independência em relação aos Estados Unidos e aos outros imperialistas. O colapso da União Soviética pôs o último prego no caixão de tais modelos. Os países neocoloniais não tiveram outra alternativa senão alinhar-se totalmente com os ditames económicos dos imperialistas e abandonar as suas antigas estruturas corporativas e estatistas.
O movimento operário do mundo neocolonial também capitulou perante o aumento das pressões liberais, embora de formas diferentes das do Ocidente. Em certos casos, como o Brasil e a África do Sul, os partidos da classe trabalhadora anteriormente reprimidos, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista Sul-Africano, tornaram-se executores dos novos regimes “democráticos” neoliberais. No México, a resistência da classe trabalhadora ao neoliberalismo estava ligada ao Partido de la Revolución Democrática (PRD), uma cisão populista de esquerda do partido no poder. O PRD em si não se opunha a uma maior penetração do capital norte-americano no México, mas apenas procurava melhores condições para a violação do México. Em muitos países, o movimento operário misturou-se com o mundo das ONGs liberais, apoiando os “direitos humanos” e os “objectivos de desenvolvimento milenares” em vez da luta de classes. Assim, tínhamos uma situação em que a classe trabalhadora de muitos países estava a crescer em força económica, mas estava politicamente paralisada por lideranças que capitulavam perante fortes correntes nacionais e internacionais que pressionavam no sentido do liberalismo e da integração com o imperialismo mundial.
Neoliberalismo com características chinesas
As perspectivas pareciam sombrias para o Partido Comunista da China após a vaga contrarrevolucionária que se propagou da Alemanha de Leste à URSS. O esmagamento sangrento da revolta de Tiananmen, em 1989, tinha isolado o regime na cena mundial. Para os EUA e os seus aliados, era apenas uma questão de tempo até que a China seguisse o caminho da União Soviética e se integrasse no crescente círculo democrático liberal. Mas não foi esse o caminho seguido pelo PCC. A lição que retirou de Tiananmen e das contra-revoluções no bloco de Leste foi que, para se manter no poder, precisava de combinar um elevado crescimento económico com um controlo político apertado. Para o conseguir, o Partido Comunista redobrou o caminho da “reforma e abertura” iniciado por Deng Xiaoping no final dos anos 70, que consistiu na liberalização do mercado na agricultura e na indústria, em privatizações e na atração de capitais estrangeiros. Atualmente, o controlo do Partido Comunista sobre o poder parece mais firme do que nunca. Para o PCC e os seus defensores, a China está a ser guiada pela corrente da história através das políticas esclarecidas dos seus líderes. Mas, como as correntes agitadas da luta de classes tornarão claro, este aparente sucesso tem mais a ver com as águas estagnadas do período pós-soviético do que com as capacidades de direção do PCC.
Com a ameaça do “comunismo global” aparentemente desaparecida e com Deng a comprometer o partido a acolher o capital estrangeiro durante a sua “digressão ao sul” de 1992, o investimento imperialista inundou a China. As Zonas Económicas Especiais ofereciam um ambiente desregulamentado digno das melhores práticas neoliberais de mercado livre e uma enorme reserva de mão de obra barata, cuja submissão era garantida pelo PCC, enquanto a economia dirigida pelo Estado mobilizava enormes recursos para construir infra-estruturas e fábricas. Esta combinação produziu enormes lucros para o capitalismo monopolista, mas também um progresso económico e social sem paralelo na China. Nos três anos após 2008, a China utilizou mais cimento do que os Estados Unidos durante todo o século XX. Desde 1978, o crescimento do seu PIB tem sido, em média, de 9% ao ano e 800 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza. A integração da China na economia mundial permitiu enormes saltos de produtividade, abriu um novo mercado gigantesco e serviu de motor ao crescimento económico e ao aumento do comércio mundial. A ascensão da China é simultaneamente o maior êxito da ordem pós-soviética e a sua maior ameaça.
Para os sociais-democratas e os moralistas liberais, as políticas mercantilistas e repressivas do PCC são a prova de que a China é atualmente capitalista ou mesmo imperialista. Mas, ao contrário do que aconteceu na URSS e na Europa de Leste, o regime estalinista na China nunca abandonou o controlo da economia e do Estado. As principais alavancas económicas continuam a ser colectivizadas. Em muitos aspectos, o regime económico na China assemelha-se atualmente a uma versão extrema do que Lenin descreveu como “capitalismo de Estado”: a abertura de certas áreas económicas à exploração capitalista sob a ditadura do proletariado.
Para uma avaliação marxista das políticas de Deng e dos seus sucessores, não se pode simplesmente rejeitar por princípio as reformas de mercado ou qualquer compromisso com o capitalismo. Em vez disso, é preciso olhar para os termos e objectivos dos acordos e verificar se eles reforçaram a posição global da classe trabalhadora. No Terceiro Congresso do Comintern, Lenin delineou da seguinte forma a sua abordagem às concessões estrangeiras no Estado operário soviético:
“Reconhecemos com toda franqueza e não escondemos que, no sistema do capitalismo de Estado, as concessões implicam um tributo ao capitalismo. Mas ganharemos tempo e ganhar tempo significa ganhar tudo, sobretudo em uma época de equilíbrio, quando nossos camaradas do estrangeiro preparam a fundo sua revolução. Quanto mais a fundo a prepararem, mais segura será a vitória. Mas, enquanto isso, teremos que pagar um tributo.”
—“Informe sobre a tática do P.C. da Rússia” (5 de julio 1921)
Lenin procurou atrair capitais estrangeiros para a Rússia como forma de promover o desenvolvimento económico e ganhar tempo até que a revolução pudesse estender-se internacionalmente. Os compromissos que ele estava pronto a fazer não envolviam o menor indício de que a luta contra o capitalismo seria deixada de lado. Pelo contrário, ele insistia:
“Esta luta assumiu novas formas, mas continua a ser uma luta. Cada concessionário continua a ser um capitalista e tentará enganar o poder soviético, enquanto nós, pelo nosso lado, devemos tentar aproveitar a sua rapacidade.”
—“Relatório sobre as concessões numa reunião do Grupo Comunista do Conselho Central dos Sindicatos de toda a Rússia” (abril de 1921) [Tradução do texto em inglês]
Em contrapartida, Deng Xiaoping proclamou que “não há contradição fundamental entre o socialismo e a economia de mercado” (1985). Para Deng e os seus sucessores, nunca se tratou de ganhar tempo para a revolução mundial, mas sim de perseguir o sonho de desenvolver a China em harmonia essencial com o mundo capitalista.
Embora os últimos 30 anos tenham produzido resultados surpreendentes quando se olha para os dados económicos brutos, o quadro é bastante diferente quando se avalia a força do Estado operário chinês numa base de classe. O desenvolvimento da China tem sido construído sobre uma base de areia: “coexistência pacífica” com o imperialismo mundial. Há uma contradição fundamental na ascensão da China: quanto mais forte se torna, mais compromete a condição que tornou possível a sua ascensão—a globalização económica sob a hegemonia dos EUA. Mas, em vez de mobilizar a classe trabalhadora internacional para a inevitável luta contra o imperialismo norte-americano, o PCC tem, desde há décadas, construído a sua fé na “interdependência económica”, no “multilateralismo” e na “cooperação vantajosa para todos” como meios de evitar o conflito. Essas ilusões pacifistas enfraqueceram a República Popular da China (RPC) ao desarmar a classe trabalhadora, a única força que pode derrotar decisivamente o imperialismo.
A posição da China é ainda mais prejudicada pela poderosa classe capitalista interna que emergiu no continente e que tem um interesse direto na destruição do Estado operário. Longe de reconhecer esta ameaça mortal para o sistema social, o PCC tem encorajado abertamente o crescimento desta classe, enaltecendo os seus contributos para a construção do “socialismo com características chinesas”. Não é preciso ser um estudioso de Marx para entender que uma classe cujo poder se baseia na exploração da classe trabalhadora é um inimigo mortal da ditadura do proletariado, um regime baseado no poder estatal da classe trabalhadora.
Para Lenin, o único princípio envolvido no estabelecimento de concessões capitalistas estrangeiras era preservar o poder do proletariado e melhorar suas condições, mesmo que isso significasse “150% de lucros” para os capitalistas. Ele baseou toda a sua estratégia no potencial revolucionário do proletariado, tanto na Rússia como no estrangeiro. Esta perspetiva não tem nada a ver com a da burocracia do PCC, que teme a revolução como a peste e, acima de tudo, procura a estabilidade política para manter os seus privilégios burocráticos. Longe de construir a “prosperidade comum”, as políticas do PCC têm procurado manter subjugadas as aspirações da classe trabalhadora e manter as condições de trabalho tão miseráveis quanto possível para competir com os trabalhadores no estrangeiro e assegurar o investimento de capital. Aqueles que lucraram não foram as “pessoas que trabalham duro”, mas uma pequena camarilha de burocratas e capitalistas. A verdade é que o PCC tem trabalhado com os capitalistas no país e no estrangeiro contra os trabalhadores na China e a nível internacional. Esta traição levada a cabo em nome do “socialismo” mancha a RPC aos olhos da classe trabalhadora internacional e mina a defesa da Revolução de 1949.
IV. Combatendo o liberalismo com o liberalismo
O forte consenso político em todo o Ocidente pós-1991 não significou a inexistência de vozes discordantes à esquerda e à direita. No entanto, de um modo geral, esta dissidência não pôs em causa as premissas ideológicas básicas da ordem mundial liberal e muito menos a base material desta ordem: o domínio do capital financeiro dos Estados Unidos. Os vários movimentos que surgiram na esquerda criticaram o status quo com base na moralidade liberal, ou seja, a partir dos fundamentos ideológicos básicos do status quo. Quer fossem contra o comércio livre, a guerra, o racismo ou a austeridade, os movimentos de esquerda tinham todos como premissa travar os excessos do imperialismo, mantendo o sistema global intacto mas sem os seus aspectos mais brutais. Como Lenin explicou sobre essas críticas ao imperialismo no seu tempo, não passavam de “desejos piedosos”, uma vez que não reconheciam “os vínculos indissolúveis existentes entre o imperialismo e os trusts, e por conseguinte entre o imperialismo e os fundamentos do capitalismo” (Imperialismo). E assim os vários movimentos de esquerda no período pós-soviético denunciaram, fizeram petições, manifestaram-se, cantaram e comeram tofu, mas falharam completamente na construção de uma verdadeira oposição ao imperialismo liberal.
O Movimento Anti-Globalização
O movimento anti-globalização atingiu o seu auge nos protestos da OMC em Seattle, em 1999. Seguido de vários movimentos semelhantes em todo o mundo, este movimento acabou por dar origem ao Fórum Social Mundial. O movimento em si era uma mistura eclética de sindicatos, ambientalistas, ONGs, grupos indígenas, anarquistas e socialistas. Esta miscelânea não tinha qualquer coerência ou objetivo comum; era uma coligação entre os perdedores da globalização, que procuravam impedir que as rodas do capitalismo girassem, e a ala esquerda do liberalismo, que procurava tornar os seus ciclos menos brutais.
Nos sindicatos, a oposição à globalização foi impulsionada pela resistência da classe trabalhadora à perda de postos de trabalho devido ao deslocalização da indústria. Se fosse corretamente canalizada, esta raiva legítima da classe trabalhadora poderia ter alterado o equilíbrio das forças de classe a nível internacional e posto fim à ofensiva do capital financeiro. Isto teria exigido fortes lutas defensivas que confrontassem diretamente os interesses do capital monopolista: ocupações de fábricas, greves, campanhas de sindicalização. Mas os líderes sindicais fizeram o contrário.
Nos EUA, opuseram-se ao deslocalização da indústria e ao NAFTA [Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio], mas celebraram ativamente o domínio do capitalismo americano sobre o mundo, que eles próprios tinham ajudado a alcançar através do seu envolvimento na “luta contra o comunismo”. Os sindicatos não podiam lutar em defesa do emprego e continuar a apoiar o próprio fator que conduz ao deslocalização da indústria—o domínio imperialista dos EUA. E apoiaram-no, desde as suas campanhas proteccionistas anti-mexicanas e anti-chinesas até ao apoio a Bill Clinton para presidente. Na Europa, mesmo a oposição formal ao comércio livre era muito mais fraca e muitos sindicatos fizeram campanha ativa a favor do Tratado de Maastricht e da UE. Os que não o fizeram, tal como os seus homólogos americanos, recusaram-se a lutar contra a classe dominante que estava por detrás da liberalização económica, procurando, em vez disso, um bloco entre o trabalho e o capital numa base nacional contra “interesses estrangeiros”. Em ambos os casos, o resultado foi uma devastação total para a classe trabalhadora, com perdas maciças de emprego e a decadência de regiões inteiras.
O outro lado do movimento anti-globalização era constituído por várias ONG, anarquistas, ecologistas e grupos socialistas. Como a maioria destes grupos insistiu, não se opunham à globalização, mas procuravam uma globalização “mais justa”, “democrática” e “respeitosa com o meio ambiente”. Como explicámos anteriormente, a globalização não pode ser justa sob o jugo do imperialismo, e a ofensiva neoliberal só pode ser travada através do reforço da posição da classe trabalhadora internacional. O movimento antiglobalização não podia fazer nada para promover isto porque abraçou o mesmo triunfalismo liberal cujas consequências estava supostamente a combater. O movimento afirmava que a luta de classes tinha acabado e que os estados-nação tinham sido suplantados pelas corporações internacionais... por isso, obviamente, não organizou a luta de classes contra os estados imperialistas que apoiavam a globalização.
Como o movimento via a globalização como basicamente inevitável e considerava a classe trabalhadora como irrelevante, na melhor das hipóteses, não fez nada para se opor à perda de milhões de empregos. A esquerda denunciou o chauvinismo protecionista de certos burocratas sindicais e políticos reaccionários, mas fê-lo sem apresentar um programa de defesa do emprego e das condições de trabalho. Isto significava ser um eco de esquerda dos Bushes e dos Clintons, que também denunciavam o protecionismo e o nativismo, em benefício da expansão externa dos EUA. A verdade básica rejeitada pelo movimento antiglobalização é que uma verdadeira defesa dos empregos da classe trabalhadora nos EUA e na Europa não seria contra os interesses dos trabalhadores do Terceiro Mundo, mas reforçaria a sua posição, pondo um travão ao aumento da pilhagem imperialista. Para ser internacionalista, a classe trabalhadora não deve tornar-se “liberal” e “iluminada”; deve unir-se para derrubar o imperialismo. Qualquer luta contra a burguesia imperialista reunirá objetivamente a classe operária internacional e fazer-la separá das suas direcções nacionalistas.
Embora o movimento anti-globalização tenha conseguido provocar alguns motins, estes não constituíram uma ameaça para o imperialismo liberal. Paralisado por uma fidelidade fundamental ao status quo, o movimento acabou por ser apenas uma nota de rodapé na ofensiva esmagadora do capital financeiro nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Por fim, mesmo a oposição formal ao NAFTA e à UE foi abandonada por praticamente todo o movimento operário e pela esquerda. Foi a impotência das forças que se opõem à globalização que empurrou milhões de trabalhadores no Ocidente para demagogos como Trump, Le Pen em França e Meloni em Itália.
Esquerda Antiestablishment pós-2008 nos EUA e na Europa
A bolha de crédito de 2007 marcou o ponto alto da ordem mundial liberal. A crise económica que se seguiu representou um ponto de viragem importante, uma vez que a dinâmica que contribuía para a estabilidade e o crescimento económico—aumento do comércio mundial, crescimento da produtividade, consenso político e geopolítico—se desmoronou e inverteu. Embora a crise e as suas consequências não tenham posto fim à era pós-soviética, aceleraram as tendências que a estavam a minar. Em grande parte do mundo ocidental, a perda de milhões de postos de trabalho e os despejos, seguidos de uma onda de austeridade, criaram um profundo descontentamento político. Pela primeira vez desde a década de 1990, surgiram grandes movimentos políticos que atacaram os pilares fundamentais do consenso pós-soviético. À direita, o protecionismo, a oposição ao “multilateralismo” e o chauvinismo aberto tornaram-se correntes. À esquerda, foi a oposição à austeridade, os apelos às nacionalizações e, em certos sectores, a oposição à OTAN. As características destes movimentos variam muito, mas uma conclusão impõe-se: enquanto a direita populista surge hoje revigorada, após um certo declínio em 2020, os movimentos antiestablishment da esquerda entraram, na sua maioria, em colapso. O que explica este fracasso?
A esquerda antiestablishment foi empurrada para a frente por décadas de ataques neoliberais que foram exacerbados após 2008 e, no caso dos EUA e da Grã-Bretanha, pela oposição às intervenções militares no Afeganistão e no Iraque. Embora estes movimentos tenham reagido contra o status quo, não romperam decisivamente com ele. Cada um deles, à sua maneira, estava ligado à burguesia imperialista responsável pela degradação das condições sociais. Os porta-estandartes desta tendência foram Corbyn na Grã-Bretanha, Sanders nos Estados Unidos, Syriza na Grécia e Podemos em Espanha. Ao contrário destes, Mélenchon, em França, ainda não fracassou visivelmente. No entanto, o seu movimento contém todos os ingredientes que levaram ao fracasso dos seus homólogos estrangeiros.
No caso de Sanders, ele é um representante do Partido Democrata, um dos dois partidos do imperialismo americano. Os seus discursos sobre “uma revolução política” contra a “classe bilionária” não significam nada, dada a sua fidelidade a um partido que representa os bilionários. Além disso, como político reformista liberal, a grande reforma que Sanders prometeu, “Medicare [o programa federal de seguro saúde] para Todos”, esteve sempre subordinada à unidade com os capitalistas democratas “progressistas” contra os republicanos mais reaccionários. Em nome da “luta contra a direita”, Sanders traiu os princípios que dizia defender. Quanto mais Sanders espezinhou as aspirações do movimento que representava, mais se elevou no establishment do Partido Democrata. Aqueles que hoje querem recriar este movimento fora do Partido Democrata e sem Sanders não compreendem que é o próprio programa do reformismo liberal que leva à capitulação perante a classe dominante. Qualquer programa que procure conciliar os interesses da classe trabalhadora com a manutenção do capitalismo americano procurará necessariamente apoio numa das duas alas do capitalismo americano. Para quebrar o ciclo reacionário da política dos EUA e verdadeiramente fazer avançar os seus interesses, a classe trabalhadora requer o seu próprio partido construído em total oposição tanto aos liberais como aos conservadores.
O movimento de Corbyn era semelhante ao movimento em torno de Sanders, mas diferia em dois aspectos importantes. O primeiro é que o Partido Trabalhista, ao contrário do Partido Democrata, é um partido operário burguês. A sua base na classe trabalhadora explica em parte porque é que Corbyn conseguiu ganhar a liderança do Partido Trabalhista, enquanto Sanders foi travado pelo establishment democrata. A outra diferença significativa é que Corbyn ultrapassou as linhas vermelhas quando se tratou de questões de política externa. A sua oposição à OTAN e à UE, as suas críticas ao golpe de Estado apoiado pela OTAN na Ucrânia em 2014, o seu apoio aos palestinianos e a sua oposição às armas nucleares eram totalmente inaceitáveis para a classe dominante.
Perante a hostilidade raivosa do establishment britânico e uma insurgência contínua contra ele no seu próprio partido, as alternativas colocadas a Corbyn eram confrontar diretamente a classe dominante ou capitular. Mas o programa de Corbyn de pacifismo e reformismo trabalhista procura acalmar a guerra de classes, não vencê-la. Por isso, em todas as ocasiões, Corbyn procurou apaziguar a classe dominante e a ala direita do seu partido, em vez de mobilizar a classe trabalhadora e a juventude contra eles. Corbyn capitulou na renovação do programa de submarinos nucleares Trident, na autodeterminação da Escócia, na questão de Israel-Palestina, na OTAN e, mais decisivamente, no Brexit. O exemplo de Corbyn, ainda mais do que o de Sanders, é um caso clássico da total impotência do reformismo na condução da luta de classes.
O caso do Syriza é diferente, na medida em que chegou ao poder na Grécia como resultado da oposição em massa à austeridade imposta pela UE. A rapidez da sua ascensão só foi igualada pela profundidade da sua traição. Depois de organizar um referendo em 2015 que rejeitou por esmagadora maioria o pacote de austeridade da UE, o Syriza espezinhou descaradamente a vontade popular ao aceder às exigências imperialistas de ataques ainda mais duros ao povo trabalhador grego. A razão para esta traição reside na natureza de classe e no programa do Syriza. A única força capaz de fazer frente ao imperialismo na Grécia é a classe trabalhadora organizada. Mas o Syriza não é um partido da classe trabalhadora. Ele alegou que poderia servir os capitalistas gregos, bem como os trabalhadores e oprimidos da Grécia... tudo isso mantendo o país na UE. Este mito explodiu ao primeiro contacto com a realidade. Enquanto a maior parte da esquerda aplaudiu o Syriza até à sua traição, o Partido Comunista manteve-se ao lado, negando mesmo que a Grécia seja oprimida pelo imperialismo. As consequências de ambas as políticas foram atiradas para cima do povo grego. Este desastre mostra a necessidade urgente na Grécia de um partido que combine a luta pela libertação nacional com a necessidade de independência de classe e poder dos trabalhadores.
À medida que o mundo entra num período de crise aguda, o movimento operário no Ocidente encontra-se politicamente desorganizado e desmoralizado, traído pelas forças em que depositou a sua fé. Embora esta situação conduza indubitavelmente a ganhos para a direita a curto prazo, um novo surto da classe trabalhadora e das massas populares colocará mais uma vez a necessidade de alternativas políticas aos representantes do status quo liberal. É essencial tirar as lições dos fracassos do passado para evitar um novo ciclo de derrotas e reacções.
Covid-19, desastre liberal
Durante a pandemia de Covid-19, a esquerda não ofereceu sequer uma ténue oposição ao establishment liberal. Enquanto as burguesias de todo o mundo encerravam as suas populações durante meses a fio, sem nada fazer para resolver sistemas de saúde em ruínas e condições de vida terríveis, a esquerda aplaudia e pedia confinamentos cada vez mais rigorosos. Todos os ataques contra a classe trabalhadora foram aceites em nome de “seguir a ciência”. O entendimento básico de que a ciência na sociedade capitalista não é neutra, mas é utilizada para servir os interesses da burguesia, foi atirado pela janela, mesmo por aqueles que se diziam marxistas.
O resultado fala por si. Milhões de pessoas morreram com o vírus, milhões perderam os seus empregos, famílias foram fechadas em casa à custa de mulheres, crianças e sanidade mental. Dado que a ciência foi utilizada para justificar uma política reacionária após outra, milhões de pessoas viraram-se contra a “ciência” e recusaram vacinas que salvaram vidas. O sistema de saúde foi salvo? Não, em todo o lado está muito pior do que antes. Os trabalhadores foram protegidos do vírus? Não, continuaram a trabalhar em condições perigosas. Os idosos foram protegidos? Muitos deles morreram em lares de idosos decrépitos. Os que não morreram viram a sua qualidade e esperança de vida reduzidas devido ao isolamento social e à falta de exercício físico. A crise dos lares e dos centros de dia é mais grave do que nunca.
Em nome de “salvar vidas”, os liberais e a esquerda argumentam que não havia alternativa à vénia aos governos e à “ciência”. Mas havia uma. A classe trabalhadora precisava de tomar o assunto nas suas próprias mãos e assegurar uma resposta correspondente aos seus interesses de classe. Os sindicatos precisavam de lutar por locais de trabalho seguros, contra o seu encerramento puro e simples ou contra o trabalho em fábricas de morte. Enquanto os patrões e os governos controlarem a segurança no trabalho em vez dos sindicatos, os trabalhadores morrerão mortes evitáveis. Os sindicatos dos cuidados de saúde e das escolas precisavam de lutar por melhores condições e não de se sacrificar por ganhos ilusórios mais tarde. Esses sacrifícios não salvaram os serviços públicos, mas permitiram que a classe dominante os espremesse ainda mais. Só lutando contra a classe dominante e os seus bloqueios é que se poderia resolver qualquer dos males sociais subjacentes à crise, quer se trate de cuidados de saúde, habitação, condições de trabalho, transportes públicos ou cuidados aos idosos.
A total subserviência do movimento operário aos confinamentos garantiu que qualquer oposição às consequências desastrosas da pandemia seria dominada pelas forças de direita e conspiracionistas. Muitas das pessoas que participaram em manifestações em massa contra o confinamento ou em protestos contra as vacinas obrigatórias fizeram-no por legítima raiva contra as consequências sociais das políticas capitalistas durante a pandemia. Em vez de se antecipar a estes sentimentos e de os canalizar para uma luta pela melhoria das condições da classe trabalhadora, a esquerda denunciou-os na sua esmagadora maioria e aplaudiu a sua repressão pelo Estado.
A base para a traição total da esquerda e do movimento operário na pandemia foi lançada durante todo o período pós-soviético. Quando esta crise de proporções globais se abateu e a burguesia precisou, mais do que nunca, de unidade nacional, o movimento operário manteve-se atento e mobilizou lealmente a classe trabalhadora em torno da “ciência” e do “sacrifício partilhado”. Embora os governos e a maior parte da esquerda estejam a tentar varrer a pandemia para debaixo do tapete, não vão conseguir fazê-lo tão facilmente. As consequências deste desastre deixaram uma marca profunda na classe trabalhadora e na juventude, impelindo-os a procurar respostas e alternativas.
V. A Ordem Liberal em Decadência
A arrogância transforma-se em histeria
Desde a década de 1980 até ao início da década de 2000, a dinâmica da política mundial favoreceu o reforço relativo do poder dos EUA. Quanto mais os Estados Unidos melhoravam a sua posição económica, militar e política, mais forte era a força centrípeta que sustentava a ordem mundial liberal. Esta dinâmica de auto-reforço atingiu o seu auge no rescaldo da contrarrevolução na União Soviética. Permitiu uma liberalização política e económica generalizada com uma intervenção direta relativamente limitada por parte dos Estados Unidos. Na altura, as correntes da história pareciam estar a fazer avançar os interesses do capitalismo americano.
Mas na política, tal como na física, há uma reação para cada ação. Inevitavelmente, as consequências da hegemonia dos Estados Unidos impuseram forças de compensação. As intervenções militares cada vez mais imprudentes dos EUA foram desastres geopolíticos, desperdiçando recursos e endurecendo a oposição à política externa americana no país e no estrangeiro. A desregulamentação financeira e a desindustrialização esvaziaram o poder económico dos EUA e fortaleceram os seus concorrentes, ao mesmo tempo que tornaram toda a economia mundial muito mais instável e propensa a crises. Quanto mais a classe dominante americana utilizava o liberalismo para promover os seus interesses reaccionários, mais fomentava a resistência ao liberalismo. Lenta mas seguramente, havia sinais crescentes de que as dinâmicas que favoreciam a ordem mundial liberal estavam a enfraquecer e as forças que se opunham a ela estavam a tornar-se mais fortes. A crise financeira de 2008, o golpe de Estado e o conflito de 2014 na Ucrânia, a eleição de Donald Trump e o Brexit em 2016 são todos marcadores importantes desta tendência.
À medida que os EUA sentiram o seu poder enfraquecer, a sua arrogância transformou-se em histeria. Esforça-se cada vez mais para reforçar o seu poder, confrontando a China e a Rússia, pressionando os aliados, sancionando cada vez mais países. Mas estes esforços estão a ter custos cada vez mais elevados e a produzir resultados cada vez menores. Longe de travar o seu declínio, a reação dos Estados Unidos, até agora, apenas o consolidou. Hoje, após a pandemia e a guerra na Ucrânia, é evidente que a dinâmica da política mundial se inverteu. Está agora a apontar para uma desintegração acelerada da ordem mundial liberal. A OTAN e a Rússia estão envolvidas numa guerra por procuração. As relações entre os EUA e a China estão num estado permanente de hostilidade. O nacionalismo populista está a aumentar no mundo não imperialista, assumindo expressões tanto de esquerda (México) como de direita (Índia, Turquia). A política no Ocidente está a tornar-se cada vez mais polarizada entre aqueles que procuram reforçar o domínio imperialista rompendo com o liberalismo tradicional (Trump, Alternativa para a Alemanha, Le Pen, Meloni) e aqueles que procuram reforçá-lo duplicando a cruzada liberal (Biden, Trudeau, Partido Verde alemão).
A crescente instabilidade do mundo não é um mistério para ninguém. A controvérsia surge quanto à natureza do conflito. Para os liberais, trata-se de uma disputa entre Democracia e Autocracia. Para os libertários e os sociais-democratas, é o mercado livre contra a intervenção do Estado. Para os estalinistas e terceiro-mundistas, trata-se de uma competição entre hegemonia e multipolaridade. Todos estão errados. A resposta está nas palavras simples mas penetrantes do Manifesto Comunista: “A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes.” E é assim que a atual ordem mundial liberal em desagregação segue as leis da luta de classes. O conflito fundamental que está a moldar o mundo não é entre o PCC e os capitalistas dos EUA, Trump e Biden, Putin e a OTAN, ou o mexicano López Obrador (AMLO) e o imperialismo ianque; é entre a decadência social do capitalismo na sua fase imperialista e os interesses do proletariado mundial. Aqueles que não se guiarem por este entendimento não serão capazes de se orientar na turbulência que se avizinha, e muito menos de fazer avançar a luta pelo progresso humano.
Economia global: Um gigantesco esquema Ponzi
Como explicado anteriormente, a hegemonia dos EUA permitiu uma melhoria temporária no potencial de crescimento do imperialismo. Foi esta melhoria da conjuntura económica que permitiu a estabilidade prolongada do mundo capitalista nas últimas três décadas. Hoje, porém, não só as possibilidades de expansão se esgotaram como as condições que permitiram a expansão anterior estão a inverter-se. A consequência será uma destruição significativa das forças produtivas, com toda a instabilidade que daí advém. Como escreveu Trotsky em A Terceira Internacional depois de Lenin, “os Estados e as classes lutam ainda mais ferozmente por uma ração magra e decrescente do que por uma ração pródiga e crescente” [Tradução do texto em inglês]. Este fator está subjacente à atual situação mundial e continuará a estar, salvo uma alteração importante da conjuntura.
Ciclos de oito a dez anos de expansão e recessão são as flutuações normais da economia capitalista. À especulação selvagem e à sobreprodução seguem-se o colapso e o pânico. O período pós-soviético não foi diferente. No entanto, com o declínio das possibilidades de crescimento real, a especulação e o crédito tornaram-se a principal forma de os EUA tentarem sustentar toda a sua ordem. O rescaldo da “Grande Recessão” de 2008 expôs claramente este facto. Perante uma possível depressão, os EUA coordenaram uma expansão monetária e de crédito sem precedentes históricos. Isto criou um crescimento real anémico, mas um crescimento gigantesco dos preços dos activos. Mesmo para a maioria dos economistas burgueses, é óbvio que isso significava simplesmente criar as condições para um colapso ainda maior no futuro. Desde há mais de dez anos que o manual é o mesmo a cada sinal de crescimento vacilante: aumenta o crédito, que empurra o problema até mais tarde. Durante a pandemia de Covid-19, este processo foi mais uma vez impulsionado, atingindo máximos históricos. Para resolver as consequências do encerramento de vastas áreas da economia, os capitalistas limitaram-se a imprimir dinheiro. Foi demasiado e, finalmente, as possibilidades desta abordagem atingiram o seu limite com o inevitável “regresso da inflação”.
O aumento drástico das taxas de juro nos Estados Unidos está a sugar grandes quantidades de liquidez do sistema económico mundial. Como disse Warren Buffett: “Uma maré alta faz flutuar todos os barcos.... Só quando a maré baixa é que se descobre quem é que esteve a nadar nu”. Após uma década e meia de dinheiro fácil, segmentos gigantescos da economia estão forçosamente a “nadar nus”. Quando a corrida termina, os resultados são catastróficos. Uma vez que os Estados Unidos estão no topo da cadeia alimentar capitalista e controlam essencialmente as condições internacionais de crédito, mesmo que venham a ser o epicentro da crise, poderão usar a sua posição dominante para fazer com que o resto do mundo pague pelas consequências. Isto será particularmente devastador para os países do mundo em desenvolvimento, muitos dos quais já se encontram em crise profunda, como o Sri Lanka, o Paquistão e o Líbano. Mas as consequências serão globais e levarão necessariamente a novos golpes na ordem mundial, inclusive de potências que os EUA hoje consideram aliadas.
Uma parte significativa do establishment económico ou está a mentir ou está deliberadamente cega em relação às perspectivas da economia mundial. Certos sectores da esquerda social-democrata têm argumentado que os elevados níveis de dívida pública não são motivo de grande preocupação e que os trabalhadores beneficiariam mais com taxas de juro baixas e mais dívida do que com a atual política de taxas de juro mais elevadas. Isto é um eco daqueles que, na burguesia, desejam empurra o problema até mais tarde mais uma vez, esperançosamente para além das próximas eleições. A verdade é que todas as alternativas políticas—quer se trate de uma dívida elevada, de uma inflação elevada ou de uma deflação—serão utilizadas para atacar o nível de vida da classe trabalhadora. O problema fundamental subjacente é o enorme desequilíbrio entre o capital que existe no papel e as capacidades produtivas efectivas da economia mundial. Nenhuma magia financeira pode resolver este problema. A única saída é a classe trabalhadora assumir o controlo das rédeas políticas e económicas e reorganizar a economia de uma forma racional.
Para os economistas de direita, a solução é deixar o mercado livre fazer o seu trabalho: aceitar que haverá uma crise devastadora, deixar os fracos morrerem e os fortes saírem mais fortes. Mas os tempos do capitalismo de mercado livre já lá vão. A economia mundial é dominada por um pequeno número de monopólios gigantescos que competem com os monopólios de outros países. Nenhum Estado está disposto a deixar que os seus monopólios se desmoronem. Se a Ford e a GM forem à falência, isso não reavivará a livre iniciativa americana, mas fortalecerá a Toyota e a Volkswagen. O capitalismo desenfreado não conduz a mercados livres, mas sim a monopólios. Por um lado, isto reflecte a tendência para a produção centralizada e planeada à escala global. Mas, por outro lado, sob o imperialismo, os monopólios obstruem o crescimento das forças produtivas, levando à decadência e ao parasitismo.
Para os sociais-democratas, como o economista Michael Hudson, a panaceia é uma “economia mista”—capitalismo com intervenção e regulação do Estado. Embora isto tenha sido considerado uma heresia nos círculos económicos e governamentais nas últimas décadas, o planeamento está de novo na moda. Não se trata de iluminismo, mas porque o capitalismo nacional precisa de ser apoiado para evitar a falência e competir com a China. Embora a classe trabalhadora possa arrancar concessões aos capitalistas através da luta de classes, não é possível regular as contradições do imperialismo. A irracionalidade e o parasitismo do sistema estão enraizados na própria dinâmica da acumulação capitalista. O próprio governo não é um contrapeso para a pequena camarilha de financistas capitalistas, mas serve como seu comité executivo. Quando interfere em assuntos económicos, é, em última análise, para beneficiar a classe dominante imperialista.
Guerra Ucrânia-Rússia: Desafio militar à hegemonia dos EUA
A invasão da Ucrânia pela Rússia é, de longe, o maior desafio à hegemonia dos EUA desde o colapso da União Soviética. O facto de uma grande potência ter a confiança necessária para desafiar os EUA de forma tão direta—e até agora ter conseguido safar-se—indica uma verdadeira mudança radical. Esta guerra é diferente de todas as outras das últimas décadas. Não se trata de uma guerra anti-insurreição de baixo nível, mas de uma guerra industrial de alta intensidade. O resultado não só determinará o destino da Ucrânia como terá um grande impacto no equilíbrio de poderes na Europa e a nível internacional.
Os dois actores decisivos na guerra da Ucrânia são a Rússia e os EUA. A guerra eclodiu em resultado de décadas de expansão da OTAN para leste, para países considerados pela Rússia como estando dentro da sua esfera de influência. A Rússia vê a Ucrânia como um interesse estratégico vital e estará disposta a fazer escalar o conflito até assegurar a Ucrânia na sua órbita ou ser derrotada. A posição americana é mais complicada. A Ucrânia tem pouco valor estratégico para os Estados Unidos e é vista como um lugar marginal da Europa. Para o establishment liberal ocidental, “defender a Ucrânia” é defender a ordem mundial liberal, ou seja, o direito dos Estados Unidos de fazerem o que bem entendem onde quiserem.
A derrota da Ucrânia pela Rússia seria um golpe humilhante para os EUA. Seria um sinal de fraqueza, teria consequências desestabilizadoras para o establishment político da Europa e colocaria um ponto de interrogação sobre o futuro da OTAN. Tendo em conta estes riscos elevados, os EUA e os seus aliados têm vindo a intensificar continuamente a guerra, fornecendo cada vez mais armas à Ucrânia. A Rússia respondeu convocando uma mobilização parcial e está a destruir o exército ucraniano. Embora os EUA tenham conduzido a escalada, nem eles nem os seus aliados se comprometeram ainda a derrotar decisivamente o exército russo, passando a uma economia de guerra ou intervindo diretamente. Por enquanto, a guerra continua a ser um conflito regional pelo controlo da Ucrânia.
Os dirigentes da classe operária mobilizaram por todo o lado o proletariado em defesa dos interesses da sua classe dominante. Mas as sementes da revolta são semeadas todos os dias pelas consequências sociais da guerra. Para os marxistas, é da maior importância intervir nesta contradição crescente para construir uma nova direção que possa fazer avançar os interesses da classe operária neste conflito. O ponto de partida essencial deve ser que é o próprio sistema imperialista—definido atualmente como a ordem liberal dominada pelos EUA—que é responsável pelo conflito na Ucrânia. Todo o proletariado mundial tem interesse em acabar com a tirania imperialista sobre o mundo, e só nesta base é que os trabalhadores do mundo se podem unir, sejam eles russos, ucranianos, americanos, chineses ou indianos. No entanto, a aplicação desta perspetiva geral assume diferentes expressões concretas de acordo com as considerações de cada país.
Os trabalhadores russos têm de compreender que a vitória do seu próprio governo não constituiria um golpe fundamental para o imperialismo. Não promoveria a independência da Rússia do imperialismo mundial, mas faria dela uma opressora dos seus irmãos e irmãs de classe na Ucrânia, em benefício dos oligarcas russos. Qualquer que seja a derrota a curto prazo que possa infligir à política externa dos EUA, não vale o preço de nos tornarmos os opressores da nação ucraniana. Um conflito perpétuo entre ucranianos e russos apenas reforçaria as forças do imperialismo mundial na região. A OTAN e a UE sofreriam um golpe muito mais duro com uma frente revolucionária comum de trabalhadores russos e ucranianos contra as respectivas classes dominantes, à maneira da grande Revolução de outubro. Virar as armas contra os oligarcas russos e ucranianos! Pela unidade revolucionária contra o imperialismo norte-americano!
Os trabalhadores ucranianos têm de compreender que os EUA, a UE e a OTAN não são seus aliados, mas estão a usar a Ucrânia como um peão para os seus interesses, para serem sangrados até ao fim e depois descartados. A independência nacional da Ucrânia não será assegurada pelo alinhamento com o imperialismo, o que significaria servidão a Washington e garantiria a hostilidade permanente da Rússia. Os trabalhadores ucranianos devem também opor-se à opressão das minorias russas pelo seu governo. Essa defesa das minorias russas contribuiria um milhão de vezes mais para minar o esforço de guerra do Kremlin do que os esquemas de Zelensky. A questão das fronteiras e dos direitos das minorias nacionais poderia ser resolvida fácil e democraticamente, não fossem as intrigas reaccionárias dos oligarcas e dos imperialistas. Todos os dias se torna mais claro que os trabalhadores ucranianos estão a ser enviados para o massacre sob o comando de Washington e em benefício de Wall Street. Eles devem unir-se à classe trabalhadora russa para pôr fim a esta loucura; tudo o resto conduzirá apenas a mais carnificina e opressão. Pelo direito à auto-determinação dos russos, ucranianos, chechenos e de todas as outras minorias nacionais!
No Ocidente, os trabalhadores têm sido bombardeados com propaganda sobre a necessidade de se sacrificarem em nome da cruzada da OTAN pela democracia na Ucrânia. A melhor coisa que o proletariado dos EUA, da Alemanha, da Grã-Bretanha e da França pode fazer para defender os seus próprios interesses e os dos trabalhadores do mundo é lutar contra os parasitas financeiros e os monopólios que os sugam até ao tutano em casa. Para o fazer, têm de varrer a cabala reacionária de líderes sindicais e sociais-democratas que são leais a essas mesmas forças. As suas cedências no plano interno são inseparáveis dos seus apelos à instalação da “democracia” no estrangeiro com tanques e bombas da OTAN. Estes traidores já teriam desaparecido há muito tempo, não fosse o pântano pacifista e centrista que fala de “paz”, de “luta sindical” e até de “socialismo”, mas que se agarra às costas dos belicistas e dos servos declarados do imperialismo. Um movimento anti-guerra só vale a pena se excluir os conciliadores do social-chauvinismo no movimento operário. Levantem as sanções contra a Rússia! Abaixo a UE e a OTAN! Pelos Estados Unidos Soviéticos da Europa!
Um número crescente de trabalhadores da América Latina, da Ásia e de África olha para a Rússia como uma força contra o imperialismo. Esta fé deslocada não fará nada para os libertar do jugo dos EUA, da Europa Ocidental e do Japão. Putin não é anti-imperialista e não será um aliado na luta pela libertação nacional de nenhum país. É precisamente por esta razão que AMLO, o sul-africano Ramaphosa, o indiano Modi e o chinês Xi lhe são simpáticos ou não abertamente hostis. O apoio a Putin ilude a classe trabalhadora do “Sul Global” com a ilusão de que pode melhorar as suas condições de vida e libertar-se do imperialismo sem luta revolucionária. Ao menor sinal de revolta das massas oprimidas do mundo, os líderes reaccionários do “Sul Global” olharão para os mesmos imperialistas que hoje denunciam. A verdadeira força anti-imperialista são os trabalhadores da Ucrânia, da Rússia e do Ocidente. Eles e os trabalhadores do mundo só podem unir-se em torno de uma bandeira internacionalista comum se se opuserem a toda a opressão nacional, seja às mãos de grandes potências ou de nações que são elas próprias oprimidas. Nacionalizar os activos detidos pelo imperialismo! Trabalhadores de todo o mundo, unem-se!
China: Cinturão estalinista ou estrada proletária
À medida que as dinâmicas que permitiram à China crescer e prosperar nos últimos 30 anos se desvanecem cada vez mais rapidamente, a fé do PCC no capitalismo de mercado livre global permanece inabalável. Expressando-se no Fórum Económico Mundial de Davos de 2022, Xi Jinping argumentou:
“A globalização económica é a tendência dos tempos. Embora existam certamente contracorrentes num rio, nenhuma o poderá impedir de fluir para o mar. As forças motrizes reforçam o ímpeto do rio, e a resistência pode ainda aumentar o seu fluxo. Apesar das contracorrentes e dos perigosos baixios ao longo do caminho, a globalização económica nunca se desviou nem se desviará do seu curso. Os países de todo o mundo devem defender o verdadeiro multilateralismo. Devemos eliminar barreiras, não erguer muros. Devemos abrir-nos, não fechar-nos. Devemos procurar a integração, não a dissociação. Esta é a forma de construir uma economia mundial aberta. Devemos orientar as reformas do sistema de governação mundial com base no princípio da equidade e da justiça e defender o sistema comercial multilateral com a Organização Mundial do Comércio no seu centro”. [Tradução do texto em inglês]
Infelizmente para o PCC, o futuro do “sistema comercial multilateral” depende, antes de mais, das acções dos Estados Unidos, e os EUA não podem permitir que as tendências actuais se mantenham. Ou forçam concessões do resto do mundo para manterem a sua posição de topo, ou deitam abaixo todo o edifício quando este cair.
Durante mais de uma década, as tensões entre os EUA e a China têm vindo a aumentar. Os EUA têm vindo a aumentar a pressão à medida que se torna mais claro que a China não está a caminhar para uma democracia liberal, mas sim a tornar-se um verdadeiro concorrente económico e militar. O aumento da pressão leva o PCC a reforçar o seu controlo interno da economia e da dissidência política (por exemplo, Hong Kong) e a reforçar a sua posição militar. Isto, por sua vez, leva os EUA a apertarem ainda mais os parafusos. Esta dinâmica acelerada fez com que as tensões entre os EUA e a China atingissem um pico de várias décadas, ameaçando um conflito militar aberto.
Em caso de tal acontecimento, seria dever do proletariado internacional colocar-se incondicionalmente em defesa da China. Os imperialistas são raivosamente hostis à China precisamente por causa do progresso económico e social que o núcleo colectivizado da sua economia permitiu. É isso que a classe trabalhadora deve defender. Mas tem de o fazer de acordo com os seus próprios métodos e objectivos, e não com os da burocracia parasitária do PCC.
Trotsky explicou em relação à URSS que “o verdadeiro método de defesa da União Soviética é enfraquecer as posições do imperialismo e fortalecer a posição do proletariado e dos povos coloniais em toda a terra” (A Revolução Traída, 1936). Esta estratégia, inteiramente aplicável à China de hoje, não podia ser mais diferente da seguida pelo PCC, que procura, antes de mais, manter o status quo. Para começar, procura restaurar as relações com os Estados Unidos, apoiando-se em capitalistas americanos como Bill Gates, Elon Musk e Jamie Dimon—representantes da mesma classe que oprime o mundo e procura dominar a China. Tais manobras só podem aumentar a hostilidade dos trabalhadores americanos em relação à China, alienando o maior aliado potencial da RPC na luta contra o imperialismo dos EUA. Quanto aos povos oprimidos do “Sul Global”, o PCC não defende a sua libertação, mas sim alianças ilusórias com as elites desses países. Esses vigaristas interesseiros abandonarão certamente a China à primeira dificuldade, ou se lhes for oferecido um suborno melhor pelos imperialistas.
Há vozes na burocracia chinesa que adoptam um tom mais belicoso, encarando o reforço do Exército de Libertação Popular (ELP) como a forma mais segura de defender a China. Não podemos deixar de nos congratular com o aumento das capacidades técnicas e de combate do ELP. Mas as questões militares não podem ser separadas da política e, também neste domínio, os interesses conservadores da casta dirigente prejudicam a China. Um pilar fundamental da estratégia de defesa do ELP é impedir o acesso dos EUA à chamada “primeira cadeia de ilhas” em torno da China, desenvolvendo capacidades de ataque de longo alcance e procurando obter o controlo militar dessas ilhas. Mas em qualquer conflito, o apoio do proletariado dos países vizinhos seria muito mais decisivo do que a posse de qualquer número de pequenas rochas desabitadas.
A única maneira de realmente expulsar o imperialismo americano e japonês do Mar da China Oriental e Meridional é através de uma aliança anti-imperialista de trabalhadores e camponeses que abranja toda a região. Mas o PCC, com a sua estratégia nacionalista, não fez qualquer tentativa para ganhar os trabalhadores das Filipinas, do Japão, do Vietname e da Indonésia para a sua causa. Em vez disso, tem jogado na campanha anti-RPC dos imperialistas, concentrando-se apenas em vantagens militares a curto prazo, ignorando tanto as sensibilidades nacionais como os antagonismos de classe internos dos países vizinhos.
Em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que na questão de Taiwan. Os trabalhadores de Taiwan sofreram uma opressão brutal sob as botas da sua classe capitalista. Mas em vez de os encorajar a lutar pelos seus próprios interesses de classe contra os imperialistas e a burguesia local, a estratégia do PCC baseia-se em convencer estes últimos a submeterem-se voluntariamente ao seu domínio e a aderirem à República Popular da China. Para o efeito, o partido compromete-se a manter as relações económicas capitalistas e a administração política em Taiwan no âmbito da sua política “um país, dois sistemas”. Aos trabalhadores, o PCC não oferece a libertação, mas sim o apoio à continuação da exploração capitalista e à bota estalinista da repressão. Não é de surpreender que esta proposta “perde-perde” tenha feito pouco para ganhar as massas de Taiwan para a reunificação.
O plano B do PCC é a intervenção militar direta, que, embora potencialmente bem sucedida na reunificação de Taiwan, teria custos enormes, sobretudo se enfrentasse a hostilidade da classe trabalhadora local. Se o PCC seguisse este caminho, os trotskistas defenderiam o PLA contra os capitalistas de Taiwan e os imperialistas, mas faria-lo lutando por uma estratégia revolucionária proletária. Contra o esquema falido de “um país, dois sistemas”, os trotskistas lutam pela reunificação revolucionária, isto é, a reunificação através de uma revolução social contra o capitalismo em Taiwan e uma revolução política contra a burocracia no continente. Esta estratégia unificaria os trabalhadores da China em torno de um interesse nacional e de classe comum. Não só minará a aliança anti-comunista entre a burguesia dos EUA e Taiwan, mas transformaria a China num farol para os povos oprimidos de todo o mundo na sua luta contra o imperialismo.
Embora atualmente o PCC continue a proclamar a sua lealdade tanto ao socialismo como ao capitalismo, não se deve contar que isso se mantenha por muito tempo. Há forças poderosas ligadas aos capitalistas chineses e estrangeiros que desejam eliminar qualquer vestígio de controlo estatal e abrir de novo a China à pilhagem imperialista. Esse resultado tem de ser combatido até à morte! Mas há também correntes no seio da casta dirigente que, sob a pressão do descontentamento da classe trabalhadora, poderiam deslocar o partido para a esquerda, reprimindo os capitalistas e limpando o pó da retórica anti-imperialista e igualitária do maoísmo tradicional. Mas, tal como aconteceu com as reformas de mercado de Deng, as tentativas de Mao de uma autarquia igualitária baseada na mobilização frenética das massas não conseguiram ultrapassar o estrangulamento económico do imperialismo mundial sobre a China. De facto, os desastres das políticas de Mao levaram a RPC à beira do colapso e conduziram diretamente à mudança do PCC para a “reforma e abertura”.
As voltas e reviravoltas do PCC reflectem apenas diferentes meios pelos quais a casta burocrática parasitária procura manter a sua posição privilegiada dentro dos limites de um Estado operário isolado. Contrariamente às afirmações do PCC, de Mao a Xi, o socialismo não pode ser construído num só país, nem é possível a coexistência pacífica com o imperialismo. O único caminho a seguir para a classe trabalhadora da China é unir-se num partido construído sobre os verdadeiros princípios marxistas-leninistas de independência de classe, internacionalismo e revolução mundial e varrer os burocratas auto-interessados do PCC. Derrubar os burocratas! Defender a China contra o imperialismo e a contrarrevolução!
VI. A luta pela liderança revolucionária
No momento em que o mundo entra num novo período histórico de crise, a classe trabalhadora está politicamente desarmada. Por todo o lado é liderada por burocratas e traidores que têm assistido a uma derrota atrás da outra. À medida que se aproximam desafios gigantescos, a tarefa de forjar lideranças da classe trabalhadora que representem verdadeiramente os seus interesses é colocada com a maior urgência. Como forjar essas direcções? Esta é a questão central com que os revolucionários se confrontam atualmente. As inevitáveis convulsões sociais e políticas dos próximos anos levantarão as massas contra os seus actuais líderes e apresentarão oportunidades para realinhamentos radicais no movimento operário. Mas estas ocasiões serão desperdiçadas sem quadros revolucionários pré-existentes que tenham rejeitado as políticas falhadas dos últimos 30 anos e que coloquem corretamente as tarefas de hoje.
A lição central do leninismo
Em A Revolução Permanente (1929), Trotsky escreveu sobre Lenin: “O essencial, em sua vida, era a luta por uma política independente do partido do proletariado.” É precisamente este conceito central do leninismo que é repudiado por cada nova onda de revisionismo. Embora assuma uma forma distinta de acordo com as pressões dominantes da época, o revisionismo consiste sempre, no fundo, na subordinação do proletariado aos interesses de classes estranhas.
A conceção de Lenin do partido de vanguarda tomou a sua forma madura após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando os partidos da Segunda Internacional, tendo jurado opor-se à guerra, se alinharam esmagadoramente de forma patriótica atrás dos seus próprios governos. Nos seus trabalhos durante a guerra, Lenin mostrou como esta traição histórica não surgiu do nada, mas foi preparada e enraizada no período anterior de ascendência imperialista. A exploração de inúmeros milhões de pessoas por algumas grandes potências gera superlucros que são utilizados para cooptar as camadas superiores da classe operária. Nos seus hábitos, ideologia e objectivos, esta camada alinha-se com a burguesia contra os interesses da classe trabalhadora. A capitulação em bloco da maior parte da social-democracia mostrou que a tendência pró-capitalista do movimento operário não só se tinha tornado dominante como tinha paralisado ou cooptado a maior parte do que tinha sido a ala revolucionária da Internacional.
Desta experiência Lenin tirou a conclusão de que a unidade com elementos pró-capitalistas do movimento operário significava subordinação política à própria classe capitalista e necessariamente traía a luta pelo socialismo. A maior parte do seu fogo foi dirigida contra os centristas no movimento operário, que não tinham rejeitado abertamente os princípios do socialismo, mas procuravam, no entanto, manter a unidade a todo o custo com traidores abertos da classe operária. Lenin insistiu que os centristas eram o principal obstáculo à construção de um partido capaz de liderar as massas no caminho da revolução. Enquanto esta lição foi fundamental para o sucesso da Revolução de outubro na Rússia, a incapacidade de a assimilar a tempo na Alemanha levou à derrota do levantamento espartaquista de 1919. Das cinzas da guerra e da revolução, a Terceira Internacional foi fundada com base no princípio de que qualquer partido que pretendesse lutar pela revolução tinha de se separar política e organizacionalmente da ala pró-capitalista e centrista do movimento operário.
À medida que a onda revolucionária do pós-guerra recuava, seguiu-se um período de estabilização capitalista, que deixou a União Soviética isolada na cena mundial. Foi neste contexto que surgiu o estalinismo, rejeitando a componente essencial do leninismo—a independência política da classe operária. Em vez de se apoiar na extensão da revolução pela classe operária internacional para defender a URSS, Estaline apoiou-se cada vez mais noutras forças de classe. Quer se tratasse dos kulaks, do Guomindang na China, da burocracia sindical britânica ou dos próprios imperialistas, Estaline estabeleceu acordos que sacrificavam os interesses a longo prazo da classe trabalhadora em favor de supostas vantagens a curto prazo. Longe de fortalecer a União Soviética, isso levou a um desastre sangrento após outro, minando a posição geral do proletariado internacional.
A luta de Trotsky por uma oposição de esquerda e por uma nova Quarta Internacional foi uma continuação do leninismo precisamente na medida em que lutou para construir um partido de vanguarda internacional contra as tendências social-democratas e estalinistas no movimento operário. O extermínio físico dos seus quadros, incluindo o próprio Trotsky, levou à desorientação política e à derrota nas aberturas revolucionárias que se seguiram à carnificina da Segunda Guerra Mundial. A consequência foi o fortalecimento do estalinismo e do imperialismo mundial. Foram estas derrotas históricas e o fracasso, desde essa altura, em reformar a Quarta Internacional que conduziram a novos reveses catastróficos até à destruição da própria União Soviética.
Período pós-soviético: Os “marxistas” liquidam-se no liberalismo
Na época da contrarrevolução na União Soviética, as forças que reivindicavam o manto do trotskismo ficaram esmagadoramente paradas e assistiram ou aplaudiram ativamente enquanto os ganhos remanescentes da Revolução de outubro eram destruídos. A LCI ficou sozinha na luta pelo programa de Trotsky de defesa da União Soviética e da revolução política contra a burocracia stalinista. Apesar de seu pequeno tamanho e de suas fraquezas políticas (ver documento sobre a revolução permanente), a LCI estava em seu posto quando confrontado com o teste decisivo da época. Mas a sua fraqueza e o seu isolamento são reveladores do estado miserável da esquerda revolucionária no início do novo período histórico.
As consequências do colapso da União Soviética foram devastadoras para todos os que se diziam marxistas. A rápida mudança do mundo para a direita—não para o bonapartismo ou o fascismo, mas para o liberalismo—criou uma enorme pressão para o liquidacionismo organizacional e político. Com esta viragem na situação mundial, a tarefa era reconstruir lenta e pacientemente uma vanguarda revolucionária da classe trabalhadora baseada nas lições das recentes derrotas proletárias e na oposição política ao liberalismo. Embora a LCI tenha sido capaz de explicar o colapso soviético, como o resto da esquerda “marxista”, ela rejeitou a construção de uma alternativa revolucionária ao liberalismo (ver “O Revisionismo Pós-Soviético da LCI”).
Ao adaptar-se ao liberalismo e ao não lutar para traçar um caminho independente para a classe trabalhadora, a esquerda “marxista” ficou sem bússola perante a estabilidade e a relativa prosperidade do novo período. Para justificar a sua existência, recorreu à promoção de crises e ao apontamento de atrocidades específicas ou de políticas reaccionárias para “provar” que o imperialismo mantinha o seu carácter reacionário. Isto simplesmente encaixava no liberalismo dominante, que não tinha qualquer problema com os críticos que queriam travar “excessos” como a guerra e o racismo no contexto da exploração “pacífica” do mundo através da expansão do capital financeiro.
As guerras, a austeridade e a opressão nacional e racial do período pós-soviético foram, naturalmente, motivo de revolta para os trabalhadores e os jovens. Mas para que esta revolta assumisse um conteúdo revolucionário, era necessário expor a forma como a liderança liberal que dominava estas várias lutas era um obstáculo ao seu avanço. Era necessário exacerbar as contradições entre o sentimento legítimo de revolta e a lealdade dos liberais ao sistema que gera estes flagelos. A tarefa era separar estes movimentos das suas direcções liberais. Mas nenhuma das organizações ditas marxistas identificou sequer essa tarefa. Em vez disso, os “revolucionários” agarraram-se a cada onda de oposição liberal ao status quo que surgia, dando uma ligeira coloração marxista ao que eram movimentos burgueses.
As organizações “trotskistas” mais à direita abandonaram a maior parte das suas pretensões marxistas e construíram a ala esquerda do neoliberalismo, quer se tratasse de partidos verdes, do Partido Democrático dos EUA, do Partido Trabalhista britânico ou do PT brasileiro. Os mandelitas franceses—pretendentes à Quarta Internacional—liquidaram a sua Ligue communiste révolutionnaire, substituindo-a pelo amorfo Nouveau Parti anticapitaliste, cujo objetivo declarado já não era a revolução da classe trabalhadora, mas apenas a criação de uma “alternativa estratégica ao social-liberalismo suave” (Daniel Bensaïd). Outros recuaram para o pior tipo de sectarismo. Os nortistas (conhecidos pelo seu World Socialist Web Site) proclamaram que, na época da globalização, os sindicatos eram “simplesmente incapazes de desafiar seriamente as corporações organizadas internacionalmente” e que, por isso, se tinham tornado totalmente reaccionários. Apesar de todo o seu palavreado radical, esta posição anti-sindical deixa simplesmente sem contestação a liderança liberal dos sindicatos.
Os grupos mais centristas, como a LCI e o Grupo Internacionalista (GI), continuaram a proclamar a necessidade de uma liderança revolucionária e de “romper com o reformismo” em geral, mas abstraíram totalmente da necessidade de separar a esquerda do liberalismo, a principal tarefa política na coerência de um partido revolucionário naquela nova época. Necessariamente, as polémicas da LCI e do GI contra o resto da esquerda (e entre si) baseavam-se em princípios intemporais e jargão abstrato, e não na orientação da luta de classes segundo linhas revolucionárias.
O resultado de 30 anos de desorientação e capitulação ao liberalismo fala por si. Hoje, no início de uma nova época, as organizações que afirmam defender a revolução estão fragmentadas, fracas e escleróticas (literal e metaforicamente), com quase nenhuma influência no curso da luta da classe trabalhadora. Permanecem presas no mesmo molde em que trabalharam sem sucesso durante décadas.
A luta pela Quarta Internacional hoje
A luta pela revolução hoje deve basear-se numa compreensão correcta das características-chave da época. O imperialismo dos EUA continua a ser a potência dominante e a ordem mundial que construiu continua a definir a política global. Ela está a ser desafiada não pela ascensão agressiva de potências imperialistas rivais, mas pela perda relativa do peso económico e militar de todos os países imperialistas a favor da China—um estado operário deformado—e de potências regionais que têm um certo grau de autonomia, mas que continuam dependentes e oprimidas pelo imperialismo mundial. A dinâmica atual aponta para o aumento da instabilidade económica e política em todo o mundo e para conflitos regionais (Ucrânia, Taiwan, etc.) com implicações globais potencialmente catastróficas. A pressão sobre a ordem mundial está a aumentar rapidamente, tal como as pressões internas de cada país.
A maneira mais clara para o imperialismo dos EUA recuperar a iniciativa é desferindo um golpe paralisante na China. A burocracia do PCC fomentou enormes contradições dentro da China ao equilibrar-se entre o imperialismo mundial, uma classe capitalista em crescimento e o proletariado mais poderoso do planeta. O colapso do equilíbrio pós-soviético exacerbará essas contradições. O controlo do PCC não é tão sólido como parece exteriormente, especialmente face à agitação interna (como se viu nos pequenos mas significativos protestos contra os brutais lockdowns do PCC). A classe trabalhadora não vai ficar passiva enquanto as suas condições económicas não só estagnam como começam a piorar. Nem os capitalistas chineses aceitarão passivamente serem espremidos pela burocracia. Eventualmente, ou a China cairá na contrarrevolução como a URSS ou o proletariado se levantará, varrerá a burocracia e estabelecerá a democracia proletária através de uma revolução política. É impossível prever quando isso será decidido. Qualquer confronto será certamente precedido por ziguezagues violentos da burocracia, reprimindo tanto os contra-revolucionários como o descontentamento da classe trabalhadora. A tarefa dos revolucionários em relação à China é defender as conquistas da Revolução de 1949 contra a contrarrevolução e a agressão imperialista, mostrando ao mesmo tempo como a burocracia mina essas conquistas a cada passo, traindo a luta pela revolução internacional.
A luta dos EUA e dos seus aliados imperialistas para manterem o seu controlo sobre a ordem mundial terá custos sociais cada vez maiores para as suas populações nacionais. O tecido social das potências imperialistas já está a apodrecer por dentro. O equilíbrio mantido pelo crédito barato, pelos lucros monopolistas e pelas bolhas especulativas já não é sustentável, pois o nível de vida está a ser esmagado. Numerosos países ocidentais mostraram sinais de descontentamento crescente na classe trabalhadora. A França tem sido o país mais explosivo, mas mesmo países como os EUA e a Grã-Bretanha têm registado um aumento da luta sindical.
Enquanto as primeiras vagas destas lutas estão a ser derrotadas, a pressão só aumentará na base dos sindicatos. Tornará-se mais claro que nenhum dos problemas que a classe trabalhadora enfrenta pode ser resolvido através de ajustes paliativos ao status quo. Isso colocará cada vez mais claramente a necessidade de uma liderança sindical que possa conduzir a classe trabalhadora no caminho da luta revolucionária. O principal obstáculo que impede esse desenvolvimento são os chamados “revolucionários” que apoiam líderes sindicais marginalmente mais à esquerda, mas pró-capitalistas, em vez de construir oposições baseadas num programa revolucionário. Só na luta contra este centrismo será possível libertar os sindicatos das suas actuais direcções pró-capitalistas.
À medida que as ameaças se acumulam, o liberalismo está a tornar-se cada vez mais raivoso e histérico. Isto reflecte a pequena burguesia liberal que se agarra desesperadamente ao status quo. Mas também reflecte um medo legítimo entre os oprimidos face à crescente reação da direita. Os revolucionários do Ocidente têm de compreender que, para combater a reação crescente, é necessário quebrar o liberalismo que acorrenta os movimentos em defesa dos imigrantes, das minorias raciais, das mulheres e de outras pessoas sexualmente oprimidas. A crítica marxista a certos elementos isolados dos seus programas, como a reforma da polícia ou os apelos ao Estado, não é suficiente. Só mostrando na prática como o liberalismo é um obstáculo direto ao avanço das lutas dos oprimidos é que se pode quebrar o seu domínio sobre as massas. Isto não pode ser feito à margem, mas apenas a partir de dentro da luta, dando uma resposta de luta de classes a cada manifestação da tirania capitalista.
Os choques da ordem mundial atingirão mais duramente os países da base da pirâmide. A perspetiva de uma vida melhor, que até há pouco tempo parecia uma possibilidade, está agora a fechar-se para centenas de milhões de pessoas. As novas camadas da classe trabalhadora na Ásia, em África e na América Latina representam o maior perigo para o capitalismo. As massas do “Sul Global” deixaram cada vez mais o isolamento das aldeias e estão urbanizadas, alfabetizadas e ligadas ao mundo. O seu papel crescente na produção mundial confere-lhes um poder tremendo, mas a sua única perspetiva é uma maior imiseração. É esta onda de desprivilegiados que está a empurrar as forças populistas para a ribalta. As fracas classes capitalistas destes países têm de se equilibrar entre a pressão vinda de baixo, que ameaça varrê-las, e a pressão dos patrões imperialistas que controlam os fluxos internacionais de capital. A demagogia esquerdista e o obscurantismo religioso têm-se revelado, até à data, eficazes para conter o descontentamento social. Mas quando isso falha, a ditadura militar nunca está longe.
Nos países oprimidos pelo imperialismo, a luta pela emancipação nacional das garras das grandes potências e a resolução de outras tarefas democráticas mais elementares desempenham um papel decisivo. À medida que estas lutas se intensificam, será demonstrado a cada passo que as burguesias nacionais desempenham um papel traiçoeiro, sacrificando a libertação nacional e a emancipação da classe operária e do campesinato no altar da propriedade privada. Os revolucionários devem entrar na luta e mostrar a cada passo que só a classe operária, à frente de todos os oprimidos, pode conduzir à libertação.
Em nenhuma circunstância a luta contra governos autoritários ou obscurantistas pode justificar a menor concessão ou aliança com alternativas liberais-modernizadoras pró-imperialistas. Isso só reforçaria a reação, ao mesmo tempo que amarraria as forças da reforma democrática ao imperialismo. Nos países onde a burguesia se pinta com cores “anti-imperialistas” de esquerda, é necessário expor as suas hipocrisias mentirosas, fazendo avançar a luta contra o imperialismo. Nada pode ser mais estéril e contraproducente do que ficar à margem e pregar a revolução. É obrigatório defender todas as reformas que atentem contra os interesses imperialistas. Mas isso não pode, em caso algum, justificar o apoio ao populismo burguês. A classe trabalhadora deve defender a sua independência a todo o custo, deixando sempre claro que combate o imperialismo com os seus próprios métodos e objectivos—os da luta de classes revolucionária.
As forças que lutam pela revolução internacional são atualmente minúsculas. O reagrupamento baseado num programa e numa perspetiva claros é essencial. Oferecemos o presente documento como uma contribuição para o processo de reconstrução e reagrupamento das forças para a Quarta Internacional. A LCI tem estado atolada em controvérsia interna e desorientação política, mas avança confiante de que o processo de consolidação que iniciou lhe dará um papel crucial no próximo período de turbulência social e conflito. Como Trotsky explicou:
“O processo de cristalização, que é muito difícil e cheio de tormentos nas primeiras etapas, assumirá no futuro um carácter impetuoso e rápido.... Os grandes conflitos varrem tudo o que é intermediário e artificial e, por outro lado, dão força a tudo o que é viável. A guerra deixa espaço apenas para duas tendências nas fileiras do movimento operário: o patriotismo social, que não se detém perante qualquer traição, e o internacionalismo revolucionário, que é corajoso e capaz de ir até ao fim. É precisamente por esta razão que os centristas, receosos dos acontecimentos iminentes, estão a travar uma luta feroz contra a Quarta Internacional. À sua maneira, têm razão: na sequência de grandes convulsões, as únicas organizações que poderão sobreviver e desenvolver-se são aquelas que não só limparam as suas fileiras do sectarismo, como também as formaram sistematicamente no espírito de desprezo por toda a vacilação ideológica e cobardia”.
—“O sectarismo, o centrismo e a Quarta Internacional” (outubro de 1935) [Tradução do texto em inglês]
Avante para uma Quarta Internacional reforjada, partido mundial da revolução socialista!
Este artigo também foi publicado em: